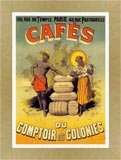Ganas
E todavia a dita comunidade internacional tem formas consumadamente esquizofrénicas de responder aos acontecimentos. Crianças já as havia mortas desde o início do conflito, crianças em monturos já as havia desde que os israelitas começaram há sete meses a bombardear a faixa de Gaza e crianças assassinadas já podiam ser vistas nos sites internacionais e nos blogs libaneses e sírios. Onde está então a surpresa? Arrisco uma tese estapafúrdia que se serve da psicanálise. A ONU, que serve mais ou menos de diapasão da dita comunidade internacional, reviveu os acontecimentos de 1996 quando as suas instalações em Qana, precisamente, foram bombardeadas. Como na psicanálise o reviver do trauma conduz ao seu desbloqueamento e, logo, surgiu a condenação internacional.
O facto de ter sido uma réplica de 1996 – com a diferença de que na altura morreram capacetes azuis – apenas demonstra que Israel bombardeia a seu bel-prazer não se importando minimamente com as consequências.
Não é estranho que assim aconteça. Para Israel o problema é liquidar os árabes e tudo o que se interponha no caminho desta resoluta decisão é obstáculo a abater. As crianças libanesas, segundo o prisma israelita, são futuros árabes que se oporão às pretensões expansionistas de Israel. Matá-los, não é, nem pode ser visto, como colateral damage – eles são o principal alvo a abater. Donde, quem olhar bem para a cara do representante de Israel nas reuniões da ONU não pode deixar de surpreender no seu fleumático semblante uma subtil satisfação.
Anti-semita eu? Estou é farto que me tratem por parvo!